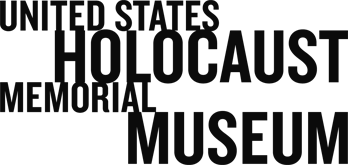-

Jeffrey Goldberg
Revista “The Atlantic”
Quando jovem, Jeffrey Goldberg deixou os Estados Unidos para servir nas Forças de Defesa de Israel. Em uma prisão para palestinos, Goldberg deparou-se com algumas situações que colocaram em cheque seu idealismo.
Transcrição
28 de agosto de 2008
JEFFREY GOLDBERG:
Durante um determinado período da minha vida, fui vítima de anti-semitismo na escola. Às vezes, no parquinho, jogavam moedas de um centavo em cima de mim. Os colegas chamavam àquilo de “jôgo” (que denominavam “Faça o Judeu se Curvar"), o qual partia do pressuposto de que um judeu, com certeza absoluta, se abaixaria para pegar qualquer centavo que visse no chão.
É engraçado porque -- dizem que as coisas que acontecem na infância influenciam o resto das nossas vidas -- hoje em dia, eu não me curvo nem para pegar uma moeda de vinte e cinco centavos.
Então acho que é verdade, infelizmente é verdade, dizer que os anti-semitas moldaram a minha primeira identidade judaica. E acho que aprendi as ideias do Sionismo com um conceito muito básico, que é o que os sionistas diziam para si mesmos e para seus amigos judeus: "Veja bem, quando baterem em você, bata de volta".
DANIEL GREENE:
Quando jovem, Jeffrey Goldberg deixou os Estados Unidos para servir nas Forças de Defesa de Israel. Quando foi designado para trabalhar como vigia de prisioneiros palestinos rebelados em um complexo prisional, Goldberg se deparou com situações que desafiaram seu idealismo. Em seu livro, entitulado "Prisoners" ("Prisioneiros"), Goldberg detalha sua experiência na prisão, inclusive sua relação com um palestino chamado Rafiq.
Bem-vindos à série de podcasts "Vozes sobre o Anti-semitismo", uma iniciativa do Museu Estadunidense Memorial do Holocausto, aberta gratuitamente ao público. Este programa é possível graças ao generoso apoio da “Oliver and Elizabeth Stanton Foundation”. Meu nome é Daniel Greene. A cada duas semanas, convidamos uma personalidade para refletir conosco sobre as diversas formas como o anti-semitismo e o ódio afetam o mundo atual. Nosso convidado de hoje é o jornalista e escritor Jeffrey Goldberg.
JEFFREY GOLDBERG:
Considero-me um militante judeu, porque agora não tolero comportamento anti-semita perto de mim.
Acho que me interessei por Israel – ou pela ideia de auto-defesa coletiva judaica – porque tentei compreender a Shoah [Holocausto, em hebráico] e não encontrei nenhuma resposta [dentre as correntes da filosofia] para ela. Tive uma reação prática: bem, era bastante fácil matar judeus já que eles não se defendiam. E [tornei-me] um militante judeu [que] é alguém que, vendo o que aconteceu, diz: "Não, isto não vai acontecer novamente!"
Eu quis servir nas Forças de Defesa de Israel, em parte porque queria ser um daqueles judeus que se defendiam. Não estou dizendo que meu único estímulo foi o que aconteceu comigo quando eu tinha 12 ou 13 anos, mas certamente aqueles fatos também me influenciaram.
Então dão um rifle para você, e um homem de 20 anos com um rifle – independentemente da cultura – sente-se muito poderoso; o rifle dá uma sensação de poder. Mas o que aconteceu com o passar do tempo, foi que comecei a sentir uma ponta de ambivalência no fato de portar um rifle.
Agora, aos 42 anos, não sou contra o fato dos judeus terem poder [para se defender], mas a realidade do poder é diferente da fantasia do poder. A realidade do poder é muito mais complicada.
Aprendi isto do jeito mais difícil. O auge da primeira intifada, 1989 e 1990, foi marcada por grupos [nos atacando], [enviando crianças para atirar] pedras [contra nós], grafiteiros, e explosões de coquetéis Molotov. O trabalho das Forças de Defesa de Israel era o de deter aqueles arruaceiros. Era um trabalho sujo, [às vezes, tihamos que] perseguir crianças [que jogavam pedras] e levá-las “presas”. Não havia espaço para sonhos de heroísmo.
A outra dificuldade que senti, foi a de ver alguns judeus – não todos, nem a maioria (da qual eu fazia parte), mas alguns poucos – usarem seu poder inadequadamente. E [eu via aqueles eventos como] parte do desafio [mais amplo] de recuperação do poderio judaico [da antiguidade], [e me perguntava] como nós judeus usamos o poder?
Isto não significa que [eu ache que] não se deva usar o poder. Quero dizer, esta é a linha que tento seguir - e que se espera que Israel e que os EUA sejam capazes de seguir - que é a de ter consciência do incrível poderío que se tem e usá-lo [apenas] de maneira racional.
Nada que eu tenha visto nas Forças de Defesa de Israel, nada mesmo, me dissuadiu da ideia de que a autonomia física dos judeus é a melhor e a única resposta adequada para a falta de poder [que levou à] ,i>Shoah.
Eu também tinha, e ainda tenho, este conflito dentro de mim, [debatendo-me] entre os imperativos rudimentares de proteger à minha tribo, de ser leal à minha tribo, e a influência universalista – o sistema de crenças que afirma somos todos iguais e que todos merecemos e desejamos as mesmas coisas.
Então, descobri uma prisão no Oriente Médio, obviamente um lugar desafiador para qualquer pessoa.
As circunstâncias conspiram contra o humanismo. Mas eu tive um impulso idealista e pensei comigo mesmo que, se conseguisse identificar as qualidades humanas neles e permitir que vissem as qualidades humanas em mim, achei que talvez pudéssemos efetivamente chegar a algum ponto em comum.
Eu me esforcei muito para entabular conversações com os prisioneiros. Houve um casal com quem desenvolvi uma relação amigável (é difícil falar em "amigos" naquele contexto). Ele se chamava Rafiq. Eu gostei dele porque ele parecia muito analítico, muito racional.
A maioria das conversas [com os outros prisioneiros] nunca iam além de:
- "Você está totalmente enganado", ou
- "Não, você é quem está totalmente enganado".
Com Rafiq era diferente. Ele mantinha uma certa distância [emocional] do conflito, assim como, de certa maneira, eu também o fazia. Isto lhe permitia analisar as deficiências do movimento palestino e não apenas as do [sionismo].
Assim nos tornamos amigos – isto é modo de dizer, é claro, mas é uma amizade que dura até hoje.
Tem um ponto no [meu] livro que conta o que aconteceu logo depois de um assassinato na prisão. Fiquei muito chocado com o acontecido e resolvi conversar com Rafiq a respeito do ocorrido. Vou ler o trecho do próprio livro: "Alguns dias depois do assassinato, propus uma situação imaginária a Rafiq. ‘Imagine que já se passaram cinco anos e que você está livre, trabalhando em Jerusalém em um canteiro de obras. Você me vê caminhando pela rua. Estou à paisana, mas você se lembra de mim como um soldado das Forças de Defesa de Israel – o exército que [você acha que] ocupou sua terra e oprimiu seu povo. Você me mataria se tivesse uma chance?’
Rafiq respondeu em hebraico: ‘Para com isso!’
- ‘Não, estou falando sério mesmo', disse eu.
- ‘Jeff, que besteira', disse ele. . . .
Finalmente ele disse:
- ‘Veja bem, [se eu o matasse] não seria por nada de cunho pessoal.'"
De fato, nos encontramos posteriormente e ele não me matou. Enfim, aquela foi a resposta à minha pergunta.
A propósito, levou um bom tempo para eu perceber que o contrário também era verdadeiro, que se eu tivesse que matar Rafiq, também não seria por nenhuma razão pessoal. Certamente eu me arrependeria, mas [a questão é que eu estaria na função de um soldado servindo] nas Forças de Defesa. Poderia ter surgido uma situação na qual Rafiq estivesse [lutando contra mim, tentando me matar, e] sob a mira da minha arma.
Esta é a questão que tenho comigo. É bom ter grupos de diálogo e tentar entender o outro lado, mas, em situações de crise, eles são de uma tribo e eu sou de outra. A minha tribo tem seus próprios princípios tribais, e a dele tem os dela. E o tribal sobrepuja o pessoal… foi o que aconteceu e sempre acontece no Oriente Médio.
O caso de Rafiq é interessante porque eu sei qual é o seu posicionamento. Sei que ele é contra Israel. Sei que ele, em outras condições, teria vivido em paz com Israel, mas sei também que estamos em lados opostos.
Por outro lado, eu confio nele. Confiaria nele para tomar conta dos meus filhos. Algumas pessoas acham isso estranho, mas eu não vejo isso como algo estranho ou incomum. Ele gosta de mim, ele gosta dos meus filhos, e eu gosto dele. Não há nada de política [neste sentimento de amizade].
Mas isto não significa que, em outro nível [o grupal] nós não tenhamos questões existenciais com as quais lidar. Para mim, isto simplesmente faz parte da complexidade das relações humanas.