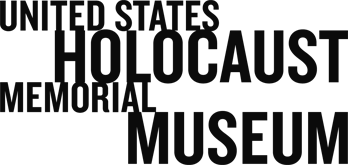21 de dezembro de 2009
RABINA GILA RUSKIN:
Temos que nos chegar, temos que conhecer uns aos outros, temos que nos relacionar e aprender uns com os outros. Eu farei qualquer coisa a meu alcance para abrir os olhos das pessoas para o potencial positivo de quando estamos em diálogo uns com os outros, quando podemos cantar, celebrar e lutar [contra as injustiças] juntos.
ALEISA FISHMAN:
Quando tinha 50 anos, a rabina Gila Ruskin deixou sua posição no púlpito para ensinar estudos judaicos em uma escola católica na área urbana de Baltimore, com um corpo discente composto basicamente por afro-americanos. A experiência levou Gila a apreciar as muitas maneiras pelas quais os judeus e os afro-americanos podem se unir, através de uma história compartilhada de opressão e, segundo ela, compromisso com os ideais proféticos [da Bíblia].
Bem-vindo a Vozes sobre o Anti-semitismo, uma série de podcasts do Museu Estadunidense Memorial do Holocausto, a qual foi possível graças ao generoso apoio da “Oliver and Elizabeth Stanton Foundation”. Meu nome é Aleisa Fishman, e sou a apresentadora desta série. A cada duas semanas, convidamos um participante para refletir sobre as diversas maneiras como o anti-semitismo e o ódio afetam o mundo nos dias de hoje.
TRANSCRIÇÃO:
RABINA GILA RUSKIN:
Por quinze anos fui rabina congregacional [de uma instituição judaica autônoma] aqui em Baltimore, e estava buscando uma nova experiência, algo desafiador e diferente. Então, deixei a congregação. No centro da cidade de Baltimore há uma escola chamada St. Frances Academy, uma escola católica. A grande maioria dos estudantes é afro-americana. Ela foi criada como uma escola–ilegal–para ensinar os escravos a ler, em torno de 1823. Enfim, eles têm uma exigência curricular de ensino de religião. Então passei a lecionar para o 11º ano a disciplina de “estudos judaicos”.
Meu trabalho era o de ensinar sobre a visão judaica da Bíblia e a cultura judaica–e assim, ensinei-lhes tudo sobre os feriados israelitas. Cantávamos canções. Todas as sextas-feiras, acendíamos velas, tomávamos suco de uva, fazíamos um lanche de boas-vindas ao Shabat [o dia sagrado semanal dos judeus]. Até hoje, tenho muitos amigos no Facebook que são meus ex-alunos, e às sextas-feiras muitos deles ainda me escrevem: “Shabbat Shalom, Rabina”.
Nós estávamos envolvidos em um programa onde combinamos um grupo de 20 dos nossos alunos e 20 estudantes de uma escola judaica. Eles tinham vários tipos de atividades conjuntas, encontros, eventos educacionais, mas era principalmente uma forma de se conhecerem uns aos outros. Eu me lembro de um menino–isso sempre ficará comigo–grande e forte. Ele era um poeta–eu o conhecia bem, pois ele estava na minha aula da redação criativa–uma alma poética, nobre de verdade. Um dia, as crianças estavam falando sobre aparências, e como às vezes as pessoas nos julgam só pelo que parecemos ser, não tomando o tempo para conhecer-nos de verdade. Ele–foi tão triste–disse: “Sabe? Quando eu ando na rua, as pessoas atravessam para o outro lado para fugir de mim”. Ele disse que aquilo tinha um efeito muito profundo na sua identidade e no seu sentido de isolamento e solidão absoluta. As crianças, as crianças judias, também já passaram por isso, você sabe...
As crianças negras, as afro-americanas, tinham muito preconceito contra as crianças judias. Elas falavam que todos os judeus eram ricos, é claro, aquela coisa toda. Mas muito da experiência em comum dos dois grupos era, não a perseguição exatamente, mas o preconceito, eu diria. Com o tempo, elas perceberam que tinham algo em comum, embora no início parecesse que não tinham, à exceção de que talvez escutassem as mesmas músicas, ou algo assim.
Algumas das crianças, devido ao fato de a St. Frances ser realmente especial, um tipo muito especial de escola, vêm de todas as partes de Baltimore. Algumas delas tomavam um, dois e até três ônibus para chegarem à escola, e muitas apanhavam dos demais jovens que haviam abandonado os estudos. Muitos dos seus melhores amigos estavam agora no mundo das drogas. Havia uma atração pervasiva [para o mal], o tempo todo. Isso certamente foi algo que passei a compreender, o que era viver com tais tipos de pressões. A outra coisa, é que aquelas crianças tinham contato com mortes violentas, elas faziam parte do seu mundo, o tempo todo. Todas tinham membros da família, amigos ou vizinhos que foram baleados. Todas, sem exceção! Isso era algo com que todas tiveram que lidar, de uma forma ou de outra.
Então, quando estudamos o Holocausto, já no final do ano, eu trouxe vários sobreviventes do Holocausto para conversar com eles, e os jovens interagiram com aquelas pessoas com todo o coração. Quero dizer, eles se identificaram com aqueles sobreviventes, muito mesmo. Durante as conversações sempre havia alguém que dizia: “Se você pôde fazer isso [sobreviver ao racismo], eu também posso.” De uma forma ou de outra, aquela era a reação delas a àquelas pessoas que vinham e contavam a estória de suas vidas durante o Holocausto: “Quando eu tinha a sua idade, eu vivia na floresta tentando fugir dos nazistas”, ou “Quando eu tinha sua idade, vivia em um campo de concentração”. Eles contavam isso para os jovens. Eu acho que todos os jovens sentem empatia por tais relatos, mas aqueles jovens em particular, alguns das quais tinham vidas muito difíceis, viram os sobreviventes como modelos e inspiração para eles.
Consegui organizar uma viagem para os alunos, uma viagem de campo, para que visitassem o Museu do Holocausto, o que foi um grande evento durante o ano letivo. O foco no qual me concentrei com eles foi o da identidade, ou seja, quais as partes da sua identidade que você nunca pode perder, e quais as partes da sua identidade que alguém pode tirar de você. O que você faz com o que resta de você, após a perda? Aqueles jovens têm toneladas de perda. Como eu já disse, muitas mortes por tiros, pessoas próximas que se tornam viciadas em drogas. Elas perdem muitas pessoas em suas vidas, elas perdem muitos pedaços de identidade em suas vidas. Então nós conversávamos sobre qual é a sua identidade essencial, o que as pessoas não podem tirar de você. Nós passamos muito tempo falando sobre o comportamento das pessoas que participaram como “espectadoras” [não faziam nada para ajudar] no Holocausto, pois isso é um grande problema em suas vidas, esta coisa de “não ser traíra”. Nós discutimos sobre o Holocausto, e como ele teria sido se ninguém tivesse traído. Como teria sido? Como não teria sido? Então, eles realmente se identificaram muito com o Holocausto. Eles sabiam que o que eles viviam como jovens afro-americanas nos Estados Unidos não era um holocausto, mas havia elementos [do Holocausto] que simplesmente ecoavam dentro deles.
Hoje em dia eu tenho um tipo totalmente diferente de trabalho. Estou servindo como rabina de uma congregação em uma cidade pequena, em um município onde há poucos judeus, ao norte de Baltimore, a 40 minutos da minha casa. É um ambiente totalmente diferente da área urbana de Baltimore, mas no ano passado, no dia de Martin Luther King, eu decidi que nossa congregação deveria unir-se a uma congregação afro-americana e celebrar o dia juntas. Então, eu comecei a procurar nas Páginas Amarelas, a ligar e perguntar às pessoas: “Você sabe de alguém?”, até que uma pessoa indicou uma congregação pentecostal, a qual procurei. Quando chegou o dia de homenagem a Martin Luther King, fizemos uma celebração com aquela congregação. Passei algum tempo indo àquela igreja, conhecendo as pessoas. Neste ano, faremos isto novamente. Eu nunca teria feito algo assim se não tivesse tido a experiência de ensinar em St. Frances. Então, tenho isto dentro de mim, que de várias formas, a de que nós, como judeus, devemos estar sempre em contato com os nossos irmãos e irmãs afro-americanos, não importa onde vivamos.